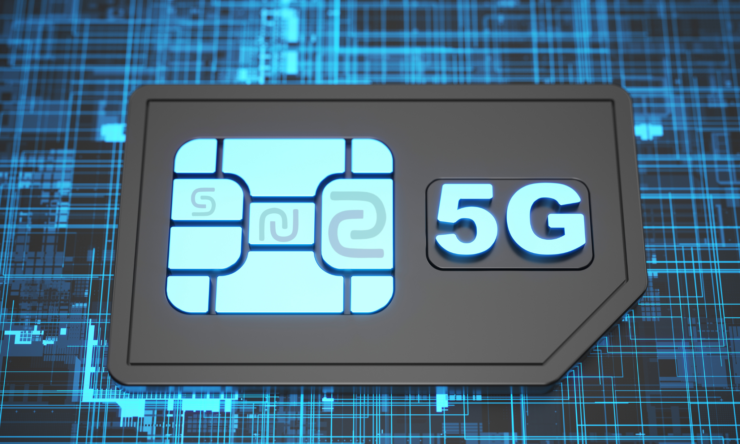O atual cenário mercadológico indica aumento exponencial para migração em nuvem, com expressivo número de brasileiros aderindo à ferramenta PABX Cloud como solução de atendimento ao cliente.
De acordo com relatório publicado pelo portal de pesquisas internacionais ASD Reports, é esperado um crescimento do mercado global fomentado pelo PABX Cloud na margem de US$ 21.942,11 milhões até o final de 2025, o que corresponde a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,15% em relação ao ano de 2019. E o Brasil é um dos países que entram nessa base de estudos.
Já o Portal Agência Brasil publicou, em julho deste ano de 2023, que a rede 3G no Brasil completou um ano de operação, com disponibilidade superior às metas de alcance previstas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, o que significa um número superior a 20 milhões de usuários já ativos em mais de 150 cidades brasileiras.
Ainda de acordo com o Portal Agência Brasil, a tecnologia 5G se expandiu significativamente no cenário brasileiro desde o segundo semestre de 2023. “Essa nova realidade ligada ao PABX em Nuvem estende o vínculo de empresários brasileiros ao novo formato de telefonia”, afirma Victor Uemura, gerente nacional da Conectel Telecom Multioperadora.
Uemura pontua, também, que “a quinta geração de rede se sobrepõe à 4G em termos velocidade, latência, confiabilidade e conectividade”, complementando que “basta o empresário ter um smartphone com acesso à rede 5G que é possível gerenciar toda uma central telefônica móvel”.
De acordo com informações fornecidas pelo Portal da Telecomunicação, desde que foi lançada, no final do ano de 2009, a tecnologia 4G passou a permitir aos usuários de todo o mundo o acesso a conexões mais rápidas e eficientes, resultando em avanços significativos no setor das telecomunicações.
Para maiores informações, é possível acessar o portal www.conectel.com.br